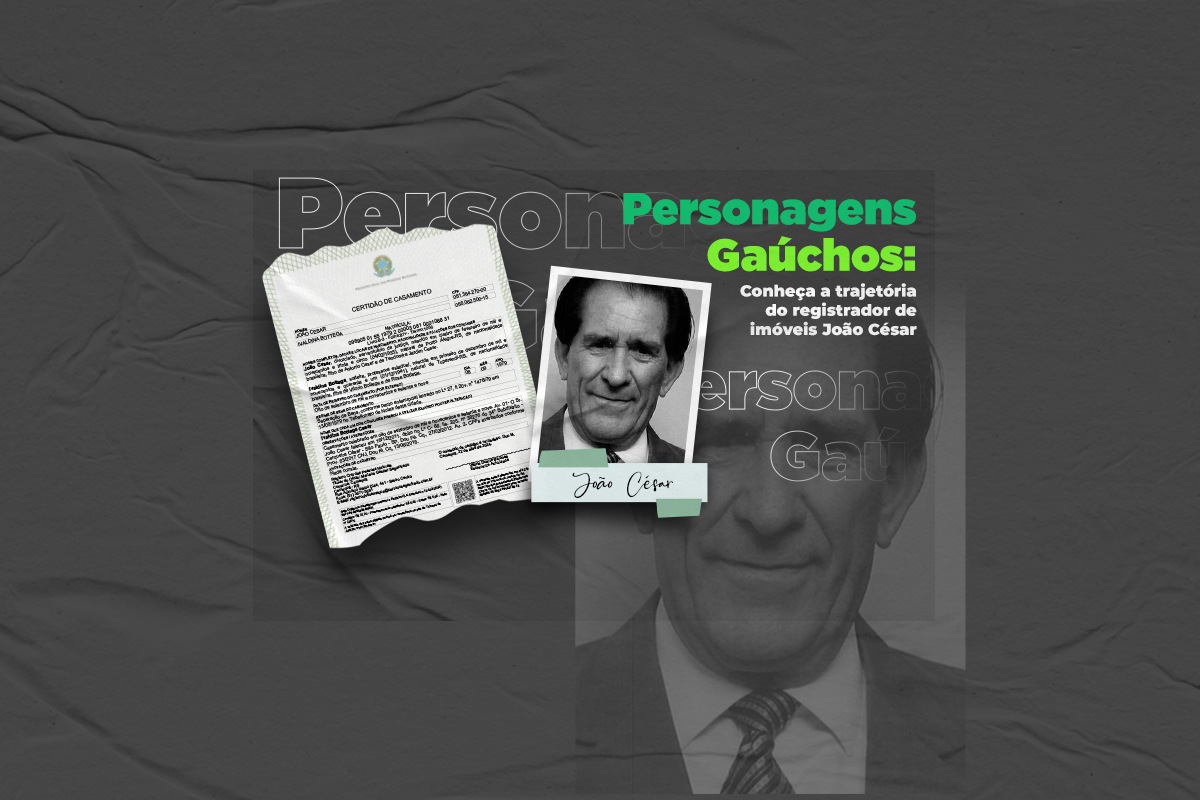Conjur – Os entraves para a aplicação da decisão do STF no cotidiano da população LGBTI
No último dia 13 de junho, a comunidade LGBTI “comemorou” dois anos da decisão do STF que criminalizava a LGBTIfobia por meio da analogia à Lei 7.716/89, ou Lei Antirracismo, como é conhecida. As comemorações, no entanto, vieram acompanhadas de manifestações de frustrações pela dificuldade de se efetivar e cumprir a decisão junto às instituições de segurança e de justiça. O que leva a nos perguntar se há realmente o que comemorar.
A organização All Out e o Instituto Matizes produziram a pesquisa “LGBTIfobia no Brasil: barreiras para o reconhecimento institucional da criminalização” [1]. Nesse material, as entidades identificaram 34 razões pelas quais a criminalização da LGBTfobia não conseguiu se firmar como uma possibilidade no Brasil. Essas razões foram divididas em quatro eixos: barreiras sobre questões estruturais; barreiras sobre falta de transparência e opacidade do Estado; barreiras sobre procedimentos institucionais; e barreiras trazidas pela pandemia da Covid-19.
A barreira de número #31 nos chama a atenção: “Dificuldade da Lei de Racismo em absorver diferentes formas de discriminação”. Segundo esse item, a Lei 7.716/1989 não foi pensada para as particularidades presentes nos crimes de ódio contra pessoas LGBTI em decorrência de sua orientação sexual e identidade de gênero, o que dificulta a aplicabilidade da decisão do STF.
Esse item escancara — ainda que de forma tímida — a maior fraqueza da criminalização da LGBTIfobia através da decisão do STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26 e do Mandado de Injunção (MI) 4733, o qual se refere a própria aplicabilidade da Lei de Racismo no nosso ordenamento jurídico.
Mesmo com as alterações feitas no decorrer dos anos na Lei 7.716/89, pouco se caminhou na responsabilização dos crimes de racismo no Brasil. O texto legal apresenta um rol taxativo e bastante específico sobre o que seria racismo e onde ele é praticado: seja negando um emprego, impedindo o acesso em um estabelecimento comercial ou as entradas sociais e elevadores de um prédio, recusando a hospedagem em um hotel, atendimento em salão de beleza etc. E, em caráter geral, o artigo 20 da Lei 7.716/89, que pune com pena de um a três anos de reclusão, aquele que pratica, induz ou incita a discriminação por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Talvez para o contexto no qual a lei foi criada, a taxatividade na tipificação das condutas representasse as principais ações discriminatórias. No entanto, passados mais de 30 anos desde a sua criação, são raríssimas as sentenças condenatórias para o crime de racismo, assim como o racismo estrutural e institucional segue firme e forte, levando cada vez mais sujeitos para os cemitérios ou para as prisões.
Neste texto não temos o escopo de nos aprofundar nas críticas à Lei de Racismo. Porém, esse fator tem sido um dos principais para o enfraquecimento da criminalização da LGBTIfobia. Nos últimos anos, nossos olhares foram direcionados para aplicação da Lei de Racismo nos casos de violência LGBTIfóbicas, sem atentar que essa proposta tem caráter meramente temporário e paliativo, segundo a própria decisão do STF.
Não é possível afirmar com certeza que, estrategicamente, a Lei de Racismo tenha sido a melhor escolha para inserir a LGBTIfobia no nosso ordenamento jurídico. Tendo em vista o seu rol extremamente reduzido de crimes e com especificidades singulares, ao admitir essa analogia, cabe ao profissional do Direito e aos agentes do sistema de Justiça tentar enquadrar as condutas LGBTIfóbicas nos dispositivos legais da Lei de Racismo.
E vejamos quais as principais violências cometidas contra a população LGBTI. Segundo os dados do Disk 100 — divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em 2019 —, em 2018 foram denunciados 1.685 casos, como em um único caso podem haver mais de uma violação, essas denúncias resultaram em 2.879 violações. Destas, 70,56% são referentes à discriminação, seguida por violência psicológica — que consiste em xingamentos, injúria, hostilização, humilhação, entre outros (com 47,95%) —, violência física (27,48%) e violência institucional (11,51%).
Infelizmente, o relatório não descreve quais foram as situações de discriminação vividas por esses LGBTIs em decorrência de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Não sendo possível saber se essas condutas poderiam ser enquadradas nos tipos da Lei de Racismo.
Nesse mesmo sentido, quanto à violência psicológica — que pode ser tipificada penalmente como crimes contra a honra —, também não se enquadra na disposição da Lei 7.716/89, não sendo possível aplicar aos casos de LGBTIfobia. Um problema que já é enfrentado pela população negra que, costumeiramente, vê atos racistas serem enquadrados como meras injúrias preconceituosas, e não como crime de racismo.
A situação é ainda mais crítica nas violências físicas, pois 74,82% dessas ocorrências se referem aos crimes de lesão corporal (artigo 129/CP). O que significa dizer que, quando um sujeito LGBTI for agredido em via pública por motivações LGBTIfóbicas, por mais escrachado que isso seja, não é possível a aplicação da Lei de Racismo para resguardar a segurança daquela vítima.
Enquanto por um lado, a presente decisão não tem sido capaz de proteger a população LGBTI nas principais violências sofridas, por outro lado, ela representa uma vulnerabilização das garantias fundamentais dispostas em nosso ordenamento jurídico, especificamente no que tange ao princípio da legalidade e à criação de novos tipos penais.
Ao permitir a aplicação da Lei de Racismo a casos de LGBTIfobia que não são contemplados em lei, a referida decisão configura uma criminalização via analogia, recurso interpretativo que não é admitido para suprir lacunas legislativas em matéria penal. Como bem leciona Nilo Batista, não há espaço para a analogia “perante o princípio da legalidade a toda e qualquer norma que defina crimes e comine ou agrave penas, cuja expansão logica, por qualquer processo, é terminantemente vedada” [2].
Esta breve reflexão expõe a problemática por trás da celebrada decisão que, analogicamente, criminaliza a LGBTIfobia. Nos levando, ainda, a questionar se o caminho tomado é capaz de trazer as mudanças estruturais tão ansiadas pela comunidade. Confiar no sistema de Justiça criminal para resguardar direitos fundamentais básicos tem surtido efeito?
Não há dúvidas de que o debate público sobre as violências sofridas pela população LGBTI representa um avanço. Podemos finalmente vislumbrar que o Estado brasileiro tem reconhecido os direitos e a dignidade LGBTI como assunto de política pública. Porém, a alternativa dada pelo poder público seguiu o caminho do Direito Penal, que historicamente revela a face mais cruel e autoritária do Estado. Por isso, é preciso ter em mente que o sistema penal reprime, violenta e ameaça e não tem qualquer compromisso com as garantias fundamentais, inclusive das vítimas dos crimes punidos.
Uma das principais expoentes da teoria queer, Judith Butler, adverte aos movimentos sociais identitários que não podemos lutar por reconhecimentos de direitos nos aliando a instituições conservadoras [3]. O reconhecimento de direitos não pode implicar na legitimação de políticas violentas e autoritárias. Assim, cabe nos questionar se a flexibilização de garantias básicas do Direito Penal será capaz de combater as violências sofridas por LGBTIs. A resposta a esse questionamento deve nos conduzir a refletir quais as violências que o sistema penal promove e contra quem as promove.
Pensemos, portanto, nos espaços em que as normas penais são operacionalizadas e aplicadas: polícia, fóruns, tribunais, presídios etc., e em como esses espaços têm recebido as demandas da população LGBTI.
A instituição da polícia é a responsável por realizar a criminalização secundária. Cabe a ela identificar as vítimas e os sujeitos criminosos, realizando investigações para colher provas de materialidade e indícios de autoria. Não é necessário muito esforço para reconhecer que essa esfera promove um tratamento desigual para os sujeitos dissidentes.
No que tange à população LGBTI, estes não são vistos como as vítimas ideais para o sistema penal, sua única forma de acessar o Estado e ser considerado um ser vivente se dá quando estes são engolidos pela criminalização. Mesmo quando vítimas de crimes violentos, suas vidas são narradas a partir de um viés culpabilizante: “A Travesti não morreu em decorrência da LGBTfobia estrutural, ela morreu porque era uma criminosa, prostituta, usuária de drogas”, como é exposto na dissertação “Morreu? Não vai dar em nada, melhor nem ter o trabalho: uma análise dos assassinatos de travestis em Belém” [4].
A citada pesquisa conclui que a construção desse estereótipo da “travesti, prostituta, assaltante e drogada” impede que qualquer traço de humanidade seja recebido na esfera policial, consequentemente, jamais serão protegidas através dessa instituição. Porque, mesmo quando vítimas de assassinatos, ainda serão tratadas como autoras de crimes e, muitas vezes, responsáveis por suas próprias mortes.
O sistema penal não é violento somente na porta de entrada, lembremos que a principal finalidade das instituições penais é a imposição de penas que, em sua maioria, são cumpridas nos presídios superlotados, fétidos e degradantes. As sanções penais são impostas inclusive a LGBTIs, que seguirão na invisibilidade e nas condições ainda mais violentas, proibidos de receber até mesmo um simples abraço, pois sua humanidade não pode ser lembrada. Aqui devemos pensar sobre a LGBTIfobia institucional.
Esta começa nos processos criminais com a linguagem preconceituosa e violenta utilizada para se referir a essa população. O nome social e a identidade de gênero são desrespeitados, a orientação sexual e a identidade de gênero quando aparecem nos processos servem para agravar a pena com base em preconceitos e moralismos. Através de decisões judiciais, mulheres trans e travestis são obrigadas a permanecerem em presídios masculinos [5].
O momento do encarceramento é ainda mais cruel e violento. Estupro, agressões, falta de hormonização, falta de atendimento médico especializado, desrespeito ao nome social, cortes de cabelo compulsórios, além da completa invisibilização das nossas existências para efetivação de direitos como visita íntima [6].
Se os espaços de aplicação da norma penal são marcados pela violência de gênero e LGBTfóbica, estaria o sistema penal legitimado a resguardar e garantir os direitos da população LGBTI? Flexibilizar o princípio da legalidade no Direito Penal traz consequências desastrosas e, ao contrário do que se pensa, não são para os autores das violências LGBTIfóbicas. Mas, principalmente para os LGBTIs capturados pelo sistema penal, seja através da morte, seja através do cárcere. O sistema penal é violento, é marcado pela tortura e seletividade contra os indesejados e abjetos, que certamente incluem os LGBTIs.
As reflexões feitas neste texto não têm o objetivo de nos dar uma resposta única e impassível de crítica. Pelo contrário, é um convite para redirecionar os nossos esforços. Quando estamos falando das estruturas estatais, devemos ter uma atenção redobrada, pois todas as instituições e discursos que compõem o dispositivo do Estado — e isso inclui o próprio judiciário — estão impregnados pelo mesmo objetivo de eliminação das vidas dissidentes.
A mesma decisão do STF que, corajosamente, reconhece a LGBTIfobia como uma violência e emprega uma noção de racismo de Estado para o conceito de racismo da Lei 7.716/89 também enfraquece o ordenamento jurídico ao admitir a criação de tipos penais mediante analogia. Abrindo uma brecha jurídica para que outras decisões se façam, e nem sempre a favor da população mais vulnerável.
Não foi a criminalização da violência LGBTIfóbica que a tornou real: ela sempre existiu. Um terrorismo constante que recai sobre a vida e sobre os corpos de todos os LGBTIs, que lutam por reconhecimento de direitos mínimos e pela própria sobrevivência. O reconhecimento dado pelo Supremo Tribunal Federal é importante, porque agora temos um nome para as nossas mazelas. Mas, ainda assim, é só o primeiro passo.
O sistema penal só conhece a linguagem da violência e esta também será usada contra nós. Esse mesmo sistema é incapaz de nos dar acesso a um serviço eficiente de saúde, a garantir renda mínima e acesso ao mercado de trabalho formal, a reduzir as violências sofridas por crianças e adolescentes LGBTIs nas escolas e é, inclusive, incapaz de nos proteger e responsabilizar devidamente os nossos algozes.
[1] BULGARELLI, Lucas; FONTGALAND, Arthur; MOTA, Juliana; PACHECO, Dennis; WOLF, Leona. LGBTIfobia no Brasil: barreiras para o reconhecimento institucional da criminalização. São Paulo. All Out e Instituto Matizes. 2021.
[2] BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12ª ed, rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011.
[3] BUTLER, Judith. Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto? 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2016.
[4] LOPES, Flávia Haydeé Almeida. “Morreu? Não vai dar em nada, melhor nem ter o trabalho”: uma análise dos assassinatos de travestis em Belém. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito) — Instituto de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Pará. Belém, 2020.
[5] CARVALHO, Salo de et al. A manutenção de mulheres trans em presídios masculinos: um caso exemplar de transfobia judiciária. In: FERREIRA, Guilherme Gomes (Org.); KLEIN, Caio César (Org.). Sexualidade e gênero na prisão: LGBTI+ e suas passagens pela justiça criminal. 1. ed. Salvador: Devires, 2019.
[6] BARBOSA, Larissa Freire de Oliveira. Entre a criminologia crítica e a teoria queer: diálogos possíveis para pensar a lgbtfobia institucional na execução penal. 2019. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Direito) – Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 201.
Fonte: Conjur